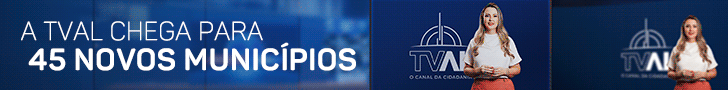A posse do ditador Nicolás Maduro para um novo mandato, até 2025, é mais um desafio à democracia, à comunidade internacional e ao povo da Venezuela. Resultado de eleições fajutas, convocadas pela Assembleia Nacional Constituinte que Maduro instituiu para esvaziar os poderes de um Parlamento controlado pela oposição, o novo mandato prolonga a agonia do chavismo e mantém o país em seu estado crônico de fome, epidemias, violência, miséria e hiperinflação.
Não é novidade que a Venezuela vive um descalabro que contribui para a instabilidade de todo o continente. O relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) publicado há um ano pintava o quadro dantesco no dia a dia dos venezuelanos.
O regime chavista que já dura 19 anos pode ser descrito como “clepto-socialismo”. Militares próximos do poder enriquecem à custa do dinheiro do petróleo, enquanto a miséria se espalha pela população, sob pretextos como combate ao “imperialismo”, ao “capitalismo”, aos “ianques” ou a qualquer espantalho a que Maduro possa atribuir a calamidade vergonhosa que se abateu sobre o país – cujo único responsável é o próprio chavismo.
A eleição foi condenada pelo Grupo de Lima (que reúne 14 países da América Latina, entre os quais o Brasil), pela própria OEA, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Maduro só conta hoje com o apoio de extremistas que veem seu governo como última esperança para tirar a esquerda latino-americana do buraco em que ela própria se enfiou.
É o caso da presidente do PT, Gleisi Hoffman. Embora o partido tenha boicotado a posse de Jair Bolsonaro, ela foi representar os petistas na posse de Maduro, reconheceu a legitimidade de seu mandato e o elogiou. No universo de Gleisi, aparentemente o cleptosocialismo é um regime político preferível à democracia e um sistema econômico que, a despeito de levar milhões à miséria ou a fugir do país, pode servir de inspiração ao resto do continente.
Para a América Latina e o Brasil, a situação se torna a cada dia mais preocupante. O ideal seria que os próprios venezuelanos se encarregassem de retirar Maduro e o chavismo do poder, por meios democráticos. Infelizmente, e impossível fazer isso sob uma ditadura. Os cenários vislumbrados para o futuro são, portanto, todos difíceis.
O melhor seria uma transição negociada para um regime cuja legitimidade possa ser reconhecida, com eleições livres e a reconstituição da oposição, hoje sufocada ou no exílio. A quantidade de defecções no regime e de ex-chavistas que aceitariam tal saída só faz crescer. Mas a oposição está dividida, não há alternativa clara de liderança, e Maduro e seu entorno jamais aceitariam largar o osso. Os meios de pressão usados têm sido insuficientes para convencê-lo.
Um segundo cenário seria um golpe militar, como tantos que o país já viveu. Para se precaver dessa possibilidade, Maduro mantém controle absoluto sobre o Exército, que cobre de benesses e privilégios. Toda ruptura é indesejável, pois traria sequelas a qualquer arranjo democrático futuro.
O terceiro cenário é uma intervenção externa: uma guerra para depor o governo Maduro e reinstaurar a democracia no país, com a participação de Estados Unidos, Brasil e outros países latino-americanos. Era um cenário antes improvável diante das articulações diplomáticas.
Lideranças do próprio PT sempre usaram o pretexto de evitar um conflito nas nossas fronteiras para justificar as relações próximas dos venezuelanos, que tornariam o Brasil fiador de qualquer saída negociada. Infelizmente, essa visão esbarra na realidade de um regime ditatorial inflexível, infenso a toda forma de pressão, dedicado a manter o poder a todo custo.
Ainda é difícil prever qual das três saídas prevalecerá. A posse de Maduro, contudo, reduz as chances da diplomacia e aumenta as de golpe e mesmo de guerra. Uma guerra é tudo o que China e Rússia – os dois sustentáculos financeiros do clepto-socialismo de Maduro – gostariam de ver no quintal dos Estados Unidos. Se o governo Donald Trump decidir intervir, o Brasil, mesmo que não queira, seria provavelmente arrastado ao conflito.